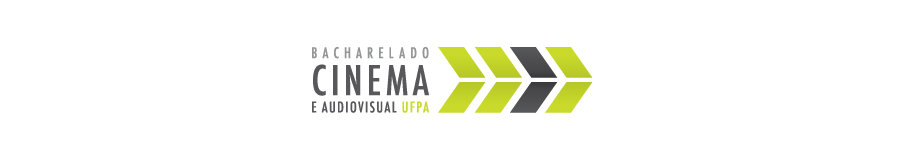A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ARTE NO BRASIL:
194 ANOS DE CAMINHOS E DESCAMINHOS
(aula inaugural do bacharelado em Cinema e Audiovisual, 03/01/2011)
Afonso Medeiros*
Faculdade de Artes Visuais e Museologia
Instituto de Ciências da Arte
Universidade Federal do Pará
1. Quase introdução:
Antes de mais nada, quero manifestar minha imensa alegria por participar desse momento único que é a implantação do primeiro curso superior de Cinema e Audiovisual em toda a região Norte – mais uma prova inequívoca da ousadia e do pioneirismo da UFPA, através da Faculdade de Artes Visuais e Museologia do Instituto de Ciências da Arte. Este é um daqueles momentos de grandeza da Universidade que, embora imersa no pesadelo do excesso burocrático, de vez em quando corrobora sua natureza dinâmica, ousada, criativa e original.
Sinto-me honrado por ter sido convidado para ministrar essa aula inaugural. Pensei muito no que dizer a todos vocês neste momento. Considerei a possibilidade de falar sobre economia da cultura ou de abordar questões mais específicas do cinema e do audiovisual. Acalentei, inclusive, a ideia de expor uma perspectiva mais histórica e/ou estética, que é a minha área de atuação. Mas achei melhor, por fim, oferecer um painel mais geral sobre a institucionalização do ensino e da pesquisa em arte no Brasil, para que todos nós, alunos e professores, possamos refletir sobre a nossa posição periférica no universo da formação acadêmica brasileira e, assim, tenhamos uma imagem mais nítida do que conquistamos e uma percepção menos ingênua do muito que ainda temos que conquistar.
A história do ensino da arte no Brasil – como toda história – é feita de caminhos sinuosos, muitas vezes estreitos e íngremes. No mais das vezes esses caminhos atravessam florestas densas, francamente inóspitas e cheias de ciladas, e em momentos mais raros passam por planícies onde a caça pode ter seu dia de caçador. Em muitas ocasiões, não se tinha nem mesmo o auxílio luxuoso de uma cartografia que servisse para a orientação dos rumos.
Muitos personagens contribuíram para a implantação e sedimentação do ensino da arte no Brasil, com suas inquietações e impenitências, delicadezas e ousadias, quase sempre seguindo as instruções poéticas de Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar e João Cabral de Mello Neto no sentido da percepção privilegiada sobre a importância da pedra na construção de trilhas estéticas. Trata-se de uma história com todas as grandezas e mesquinharias próprias do humano, cheia de fluxos e refluxos e que, nos últimos 30 anos, a partir do ponto periférico no qual me situo, pude vislumbrar e intervir de alguma maneira. Por isso, peço desculpas desde já pelas digressões pessoais tecidas a partir de uma memória – sempre traiçoeira – constituída e revisada muitas vezes no olho do furacão.
2. Quase memória do ensino superior brasileiro:
Com um atraso de três séculos em relação à América espanhola, o primeiro curso superior no Brasil (da Faculdade de Medicina, hoje da UFBA) foi fundado em 18 de fevereiro 1808, seguido pela Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro (05/11/1808). Mas a primeira universidade brasileira foi a Universidade Livre de Manáos (hoje UFAM), criada em 17 de janeiro de 1909 e depois desintegrada em cursos isolados. Onze anos depois e na contramão dessa desagregação, começaram a reunir faculdades e escolas isoladas e, assim, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ, 1920), seguida pela Universidade de Minas Gerais (UFMG, 1927) e pela Universidade de São Paulo (USP, 1934).
No ensino formal de artes, aparentemente tudo começou com a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, fundada por D. João VI em 1816, mas efetivamente instalada por D. Pedro I dez anos depois, então denominada de Academia Imperial de Belas Artes. Depois, já como Escola Nacional de Belas Artes (assim definida desde 1890), passou a integrar a Universidade do Rio de Janeiro em 1931 e, a partir de 1965, simplesmente Escola de Belas Artes da UFRJ. Na UFPA, a área de artes começou a ser constituída em 1962, através do Serviço de Teatro, mas seu primeiro curso superior de artes (Educação Artística/Artes Plásticas) só surgiu em 1974.
Essa ascendência “nobre” do ensino formal da arte no Brasil (com 184 anos completados em 2010) é pura aparência, visto que a Arte, já em sua certidão de batismo que é o Decreto de 1816, é acessória e supérflua, o que fez com que a tradição do ensino institucionalizado da arte no Brasil fosse tecida em meio a conflitos e preconceitos ainda hoje impregnados em todo o sistema educacional brasileiro, da pré-escola à pós-graduação. Além do mais, a formação superior de profissionais das artes não encontrou ressonância efetiva no sistema geral da educação brasileira por mais de um século.
Quase 150 anos se passaram para que o ensino das artes se tornasse efetivamente obrigatório nos níveis primário e secundário das escolas brasileiras (através da Lei 5692/71), justamente no período mais obscuro e funesto da história recente do país, quando os militares detinham o poder e sufocavam toda e qualquer tentativa de participação democrática ou de organização da sociedade civil. Aliás, muitos dos atos governamentais importantes para a implantação do ensino da arte no Brasil se deram em momentos sombrios, francamente ditatoriais ou populistas.
O contexto histórico que viu nascer os cursos universitários no Brasil estava impregnado pelo conluio entre iluminismo e positivismo, tendo o sistema francês como modelo e, assim, não é difícil entender o porquê do ensino da arte, desde sua gênese, ter sido atravessado pela ideia de que arte não é conhecimento ou, pelo menos, não está afeita aos desígnios supremos da razão lógica triunfante. Na tradição do ensino institucionalizado da arte no Brasil, três concepções de arte (e de seu ensino) são evidentes, pelo menos até meados da década de 60 do século passado: 1) a arte é um verniz ou um luxo opcional para as elites; 2) arte não é conhecimento, pelo menos não no nível de prestígio do conhecimento técnico-científico, jurídico e litero-filosófico (nessa ordem); 3) a cultura visual, a cultura cênica e a cultura musical do povo não são consideradas em seus aspectos artísticos e estéticos, exceto como elementos de “inspiração” para a arte produzida e consumida pelas elites.
Resumindo essa trajetória do ensino das artes em território nacional, não seria demais afirmar que tudo se deu mais ou menos nestes termos: a pintura, a escultura, o piano, o violino e o livro para poucos; e a cerâmica, a gravura, o acordeão, o violão e o cordel para muitos. Na verdade, essa diferenciação entre “artes” e “ofícios” vem de longuíssima data – desde, pelo menos, as origens das universidades no Ocidente, quando se impôs a hierarquia entre “artes liberais” e “artes mecânicas”.
Não necessitamos de muita reflexão para afirmar que essas concepções, explicita ou implicitamente, ainda estão impregnadas em todos os níveis do sistema educacional brasileiro. Desconstruir o dualismo opositivo típico do imaginário ocidental ainda é a tarefa mais relevante (e penosa) que os profissionais da arte tem que enfrentar na contemporaneidade brasileira.
3. A graduação em Artes no Brasil:
O sistema universitário brasileiro começou privilegiando cursos de Medicina, de Engenharia e de Direito, considerados como profissões essenciais para o Estado – cursos de Letras e Filosofia, o cerne das humanidades no Brasil, vieram mais tarde. A constituição das universidades federais em todo o território nacional, a partir da agregação de escolas e faculdades isoladas ou da federalização de algumas já existentes, é um fenômeno das décadas de 50 e 60 do século passado. Portanto, o início da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil em todas as regiões tem, somente, pouco mais de 50 anos e, apesar dos avanços recentes, ainda existem assimetrias na distribuição de oferta.
Para que se tenha uma pálida visão da distribuição de oferta de ensino superior no país, basta cruzarmos alguns dados:
O Brasil tem 190.732.694 habitantes, distribuídos da seguinte maneira (dados de 2010 do IBGE): 8,03% na região Norte; 27,08% no Nordeste; 7,04% no Centro-Oeste; 42,01% no Sudeste e 14,04% no Sul. Considerando-se números institucionais da educação superior no Brasil, temos 3.093 pólos de ensino superior (faculdades, centros, institutos e universidades) espalhados por todo o território nacional (dados de 2010 do MEC); este número é superior ao total de instituições de ensino superior, pois há instituições que atuam em vários pólos fora da unidade federativa de origem. Desses 3.093 pólos, 339 (10,96%) são de instituições públicas e 2.754 (89,04%) de instituições privadas. Devemos considerar que das 339 instituições públicas, 95 são federais (57 universidades e 38 institutos) e que a interiorização dessas instituições é fenômeno muito recente.
A distribuição dos pólos de ensino superior por região está assim constituída: 8,70% no Norte; 21,47% no Nordeste; 11,47% no Centro-Oeste; 43,10% no Sudeste; 15,29% no Sul. Cruzando-se os dados da densidade populacional com os da densidade de pólos universitários, percebe-se que Norte, Sudeste e Sul mantém um equilíbrio entre porcentagem da população e porcentagem dos pólos em relação aos totais nacionais. Mas o Nordeste, com 27,08% da população e 21,47% dos pólos, e o Centro-Oeste, com 7,04% da população e 11,47% dos pólos, mantêm discrepâncias – no Nordeste para menos e no Centro-Oeste para mais.
O cenário que esses números sugerem é muito diverso daquele verificado há duas décadas atrás, quando a interiorização das instituições federais de ensino era uma raridade. Ressalte-se que essa distribuição mais ou menos equânime em três regiões é fenômeno recente, em grande parte devido à explosão na quantidade de pólos oferecidos por instituições privadas desde a década de 1990. Entretanto, também é necessário citar o esforço do governo federal nos últimos anos no sentido de ampliação da oferta e interiorização dos pólos das instituições federais de ensino superior, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, de novas Universidades, do apoio à criação de campi no interior, do ensino a distância e do Plano Nacional de Professores (PARFOR), dos quais falarei um pouco mais detalhadamente mais adiante.
Os cursos universitários de artes no Brasil só começaram a ser efetivamente disseminados pelo país – e mesmo assim, de maneira acanhada – a partir da década de 1960. Um novo impulso seria dado a partir da obrigatoriedade do ensino da educação artística (Lei 5692/71) nas escolas de todo o país. Por força dessa reforma no ensino básico brasileiro, licenciaturas em Educação Artística (com habilitações em Artes Plásticas, Música, Artes Cênicas e Desenho) foram criadas em quase todo o território nacional, no mais das vezes, sem infra-estrutura mínima e com professores que, em sua maioria, não tinham educação formal adequada na área de artes, exceto nos grandes centros. Raros eram os professores com pós-graduação em artes (inexistente no país até 1974). Acrescente-se a isso o fato de que nessa década a bibliografia de arte em língua portuguesa era escassa e esquálida e, em grande parte, ignorava quase completamente a arte contemporânea. Essa configuração improvisada, sem um planejamento pertinente que assegurasse um patamar mínimo de qualidade nos cursos de artes então nascentes, construiu um cenário verdadeiramente caótico, prolixo e, no mais das vezes, confuso e equivocado.
A Lei 5692/71, embora justa e duramente criticada nos anos subseqüentes, teve o mérito de induzir a ampliação da oferta de vagas no ensino superior de arte, adquirindo capilaridade em quase todo o território nacional. Não podemos nos esquecer, também, que esse momento de disseminação do ensino superior de artes no Brasil através dos cursos de Educação Artística foi visto, desde seus primórdios, com profunda desconfiança pelos professores das pouquíssimas escolas tradicionais de arte e pelos profissionais por elas formados – sem falarmos na desconfiança preconceituosa dos profissionais universitários de outras áreas do conhecimento. O que se dizia, inclusive na UFPA, que criou seu primeiro curso superior de arte somente em 1974, era que o curso de Educação Artística não era curso “de arte”.
A década de 1980, a par do processo de redemocratização do país, foi um momento privilegiado de organização e reflexão dos arte-educadores brasileiros. Foi nessa década que se intensificaram os debates em torno da formação de professores de arte, questionando-se a formação polivalente e a licenciatura curta, por exemplo. Em 1986, surgiram a Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB), que reuniu as associações estaduais então nascentes, e a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). Também foi em 1986 que começaram as articulações para que a área de Artes tivesse um assento no Conselho do CNPq. Esse movimento de organização dos pesquisadores e professores de artes teve continuidade na década seguinte, com a criação da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) em 1991 e da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (ABRACE) em 1998. O desmembramento do Ministério da Cultura do Ministério da Educação, com a consequente separação das secretarias estaduais e municipais de cultura e educação também aconteceu a partir dos anos 80 do século passado.
Mas o auge das articulações e organização democrática em torno do ensino da arte no Brasil se deu em 1996. Depois de dez anos em que se discutiu amplamente uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional e que redundou num projeto que era uma costura mal feita de vários lobbyes mais ou menos inconfessáveis, Darcy Ribeiro apresentou um projeto substitutivo que, finalmente, entrou na pauta de discussões do Congresso Nacional e que desembocou na Lei 9394/96. Naquele momento, a FAEB e as associações estaduais a ela congregadas tiveram uma atuação importantíssima na defesa da obrigatoriedade do ensino da arte em todo o ensino básico, em suas diversas linguagens. É bom que se diga que tivemos o apoio de várias associações de profissionais da arte nessa empreitada, mas o protagonismo dessa ação cabe à FAEB e às associações estaduais. Foram elas que inundaram o Congresso Nacional com abaixo-assinados e telegramas – num momento em que o correio eletrônico ainda não estava disseminado no Brasil – exigindo a manutenção das artes como componente curricular. Burocratas do MEC diziam, para quem quisesse ouvir, que a arte seria, no máximo, um “tema transversal”. Essa geração de arte-educadores foi verdadeiramente guerreira e visionária, pois, pela primeira vez na historia deste país, houve uma mobilização ampla e democrática em prol do ensino da arte. Costumo dizer que essa história ainda está por ser devidamente registrada e contada, pois creio que tudo o que veio depois em termos de políticas nacionais para o ensino da arte deve-se, em grande medida, à força de vontade dessa geração. A partir daí, tudo aquilo que vinha se discutindo intensamente desde a década de 1980 – como o fim da polivalência e a ênfase na formação em cada linguagem artística, por exemplo – começou a se tornar consenso e, finalmente, reverberar em todo o território nacional. Mesmo assim, para a CAPES e o CNPq, cinema e audiovisual só passaram a fazer parte oficialmente da área de artes há dois ou três anos (2007/08), pois antes disso suas graduações e pós-graduações estavam abrigadas na área de Comunicação.
Agora passemos uma breve vista d’olhos nos dados atuais do ensino da arte no Brasil:
O país tem atualmente 607 cursos superiores autorizados na área de artes (dados de 2010 do e-mec), dos quais se presume que cerca de 1/3 (pouco mais de 200) são licenciaturas. Esse número corresponde à totalidade dos cursos de graduação cujo funcionamento está autorizado, o primeiro em 1816 e os mais recentes em 2011. Nesse número estão incluídos cursos extintos – a maioria deles atualizados com novas denominações e currículos – e cursos que ainda não foram efetivamente implantados. No levantamento que eu e a Profa. Lia Braga estamos fazendo, numa tentativa de sabermos a quantidade de cursos efetivamente em funcionamento, esse número (607) provavelmente será reduzido em 1/3. Mas vou trabalhar aqui com o total de cursos autorizados, pois este é um numero que reflete o cenário dos cursos superiores de arte no Brasil nos últimos 50 anos.
Para efeito de credenciamento e avaliação, o Ministério da Educação considera cada habilitação/especialidade como um curso. Desses 607 cursos/habilitações, 189 são de Música, 185 de Artes Visuais, 97 de Artes, 43 de Cinema e Audiovisual, 34 de Artes Cênicas, 33 de Teatro e 26 de Dança. Portanto, só com esses números, podemos perceber que na área em que atuamos, as discrepâncias são mais visíveis e gritantes. Se Música e Artes Visuais adquiriram capilaridade, Cinema, Teatro e Dança ainda estão muito aquém da quantidade e da distribuição desejável em todo o país.
A diversidade de cursos/habilitações é maravilhosamente assombrosa: das carreiras tradicionais às especializações em história em quadrinhos, em arteterapia, em jogos digitais, em produtores e músicos de Rock, em desenho de animação e em produção cênica ou audiovisual ou fonográfica, por exemplo. Nesse aspecto e ecoando o cenário cada vez mais fragmentado do ensino universitário em todo o mundo, temos cada vez mais cursos especializados em detrimento de cursos generalistas. Infelizmente, essa diversidade ainda está circunscrita a poucas unidades federativas: somente na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo oferecem-se cursos em todas as linguagens artísticas. Amapá, Espírito Santo, Piauí, Roraima e Tocantins ainda não oferecem cursos específicos na área de artes cênicas e/ou teatro e dança. Alagoas, Roraima, Sergipe e Tocantins não tem cursos específicos de artes visuais. Amapá, Roraima e Tocantins não oferecem cursos de música. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins não tem cursos na área de cinema e audiovisual. E a omissão mais gritante é a de Roraima, com nenhum curso superior na área de artes. Para efeito de comparação, basta citarmos que todas as unidades da federação têm, pelo menos, um curso superior de Design.
À primeira vista, São Paulo aparece como o estado com mais oferta de cursos na área de artes. Entretanto, se compararmos o número de cursos autorizados em cada unidade da federação com a densidade populacional dessa mesma UF, São Paulo ocupa apenas a nona colocação. A média nacional é de um curso de arte para cada grupo de 314.221 habitantes. O Rio de Janeiro está na dianteira, com um curso para cada grupo de 199.919 habitantes. E Alagoas em último lugar, com um curso para cada grupo de 1.040.307 habitantes. Naturalmente, esses números são ainda mais restritos, na medida em que nem todos os cursos autorizados estão em funcionamento.
Felizmente, já existem iniciativas que podem propiciar a reversão dessas assimetrias. Uma delas foi a criação (em 2008) dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (a partir dos CEFETs) em todos os estados da nação. Esses institutos podem oferecer cursos em três níveis: profissionalizantes de nível médio, superior e pós-graduação, numa concepção de educação verticalizada. Ainda é parca a oferta de cursos superiores de artes nesses institutos, pois só os institutos do Ceará (Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), do Maranhão (Artes Visuais), do Paraná (Artes Visuais) e do Tocantins (Artes Cênicas) oferecem cursos na área. Mas tudo leva a crer que esse número crescerá nos próximos anos.
A outra iniciativa é o Plano Nacional de Professores (PARFOR) coordenado pela CAPES. Implantado em 2009, o Plano prevê, em parceria com as secretarias estaduais de educação e instituições de ensino superior, a oferta de licenciaturas para professores da educação básica que ainda não a cursaram ou que atuam em disciplinas diversas de sua formação. Segundo dados da Plataforma Paulo Freire, serão mais de 8.000 cursos de licenciaturas a serem oferecidos em 2011 (entre implantados e novos). Dentre esses cursos, 299 (cerca de 3,74%) são de licenciaturas na área de artes (presenciais, semipresenciais ou à distância), oferecidas em todo o território nacional.
Para que se tenha uma pálida ideia da importância desta ação para a formação de professores do ensino básico, basta citarmos o caso do Pará. Nesse estado, cerca de 60.000 professores atuam no ensino fundamental e médio, mas mais da metade deles não tem formação específica. Destes professores que necessitam de uma licenciatura, cerca de metade estão matriculados em cursos oferecidos pelo PARFOR.
O potencial da educação à distância, tão alardeado nos últimos anos, ainda não reverberou suficientemente nas artes, dado que atualmente só existem 21 cursos à distância na área de artes em funcionamento no Brasil.
4. A pós-graduação em Artes no Brasil:
O desenvolvimento institucional da pesquisa na área de Artes mediante, por um lado, sua admissão nas agências de fomento e, por outro, a disseminação de programas de pós-graduação na área, é fenômeno ainda recente no Brasil. A admissão da área de Artes no Conselho do CNPq e a criação de associações nacionais de pesquisadores em artes são acontecimentos das duas últimas décadas do século passado. O primeiro curso de pós-graduação regular em artes foi implantado em 1974, na ECA/USP e os mais recentes em 2009, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal de Uberlândia.
Para que se tenha a dimensão de nossa posição no universo da pós-graduação brasileira, basta compararmos os números recentes da Capes (dados de 10/11/210): dos 4.394 cursos de pós-graduação (2.878 mestrados e 1.516 doutorados) em todas as áreas, temos somente 54 cursos (38 mestrados e 16 doutorados) na área de Artes. Ou seja, temos 1,32% dos mestrados e 1,06% dos doutorados atualmente recomendados. Se considerarmos somente a grande área (Letras, Lingüística e Artes) na qual estamos inseridos, somos responsáveis por apenas 22,13% do total de cursos. Se incrementássemos esses números com outros cursos de pós-graduação em áreas afins e que tem as artes como linha de pesquisa, acrescentaríamos não mais que 10 mestrados e 3 doutorados à essa lista. Com a passagem do cinema e audiovisual para a área de artes, esse numero será incrementado com as pós-graduações que ainda estão abrigadas na área de Comunicação.
Os cursos de pós-graduação em artes se dividem em: 8 mestrados (UNB, UFES, UFMG, UFU, UFPA, UERJ, UNICAMP, UNESP) e 3 doutorados (UNB, UFMG, UNICAMP) em Artes; 5 mestrados (UFBA, UNIRIO, UFRN, UFRGS, USP) e 3 doutorados (UFBA, UNIRIO, USP) em Artes Cênicas; 8 mestrados (UFBA, UFRJ, UFRGS, UFSM, UDESC, USP, FASM, UFPB/JP) e 3 doutorados (UFRJ, UFRGS, USP) em Artes Visuais; 1 mestrado em Ciências da Arte (UFF); 1 mestrado em Cultura Visual (UFG); 1 mestrado em Dança (UFBA); 13 mestrados (UFBA, UNB, UFG, UFMG, UFPB, UFPR, UFRJ, UNIRIO, UFRGS, UDESC, USP, UNICAMP, UNESP) e 6 doutorados (UFBA, UNIRIO, UFRGS, USP, UNICAMP, UNESP, UDESC) em Música; 1 mestrado e 1 doutorado em Teatro (UDESC).
Dos 54 cursos, 53 são oferecidos por instituições públicas e somente 1 por instituição privada. Os programas melhor conceituados (6 e 7, nível de excelência) pela CAPES são: Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia e Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nas 27 unidades geopolíticas do Brasil, encontramos cursos de pós-graduação somente em 13 delas: São Paulo (14), Rio de Janeiro (9), Rio Grande do Sul (6), Bahia (6), Minas Gerais (4), Santa Catarina (4), Distrito Federal (3), Goiás (2), Paraíba (2), Pará (1), Paraná (1), Espírito Santo (1) e Rio Grande do Norte (1). Se dividirmos os cursos por regiões, teremos 1 no Norte, 9 no Nordeste, 5 no Centro-Oeste, 28 no Sudeste e 11 no Sul. Se considerarmos somente os cursos de doutorado, a concentração é ainda mais restrita: nenhum no Norte; 2 no Nordeste (Música e Artes Cênicas na UFBA); 1 no Centro-Oeste (Artes na UNB); 10 no Sudeste (2 em Artes na UFMG e na UNICAMP; 2 em Artes Cênicas ou Teatro na UNIRIO e na USP; 02 em Artes Visuais na UFRJ e na USP; 4 em Música na UNIRIO, na USP, na UNICAMP e na UNESP); e 3 no Sul (1 em Teatro na UDESC; 1 em Artes Visuais na UFRGS; 1 em Música na UFRGS). Note-se que os doutorados específicos em Artes Visuais estão concentrados em apenas três instituições (todas públicas) e são em menor número que os de Artes Cênicas e os de Música.
Dividindo-se o número de cursos de graduação pelo número de cursos de pós-graduação, temos: 15.97 cursos de graduação para cada curso de mestrado e 37.94 graduações para cada curso de doutorado. A distribuição regional ficaria da seguinte maneira: 33 graduações para uma pós no Norte, 11 graduações para cada pós no Nordeste, 8.88 graduações para cada pós no Centro-Oeste, 11.21 graduações para cada pós no Sudeste e 11.27 graduações para cada pós no Sul – a média nacional é de 11.24 graduações para cada pós e, portanto, as regiões Norte e Centro-Oeste estão aquém dessa média. Mesmo sem cruzarmos os dados de egressos da graduação com o número de vagas disponíveis na pós, isso comprova a extraordinária demanda por cursos de mestrado e doutorado no Brasil.
Sem sombra de dúvida, a pós-graduação em Artes no Brasil ainda é para muitos poucos. Agora imaginem o esforço e as estratégias necessárias se pretendêssemos chegar ao patamar da Finlândia, onde todos os professores da educação básica tem, pelo menos, o título de mestre!
No momento da conclusão deste ensaio, havia a expectativa que dois novos cursos fossem aprovados pela CAPES: o doutorado em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás e o doutorado em Artes da Unesp.
5. Balanços, tendências e perspectivas:
Os números que constam deste estudo são os disponíveis em sites oficiais de várias instituições governamentais. Preferi, num primeiro momento, trabalhar com os dados relativos ao ensino da arte em geral, licenciatura e bacharelado, graduação e pós-graduação, exclusivamente dos cursos credenciados ou recomendados. Dados mais detalhados, como a quantidade de vagas, número de egressos e desenho curricular, só poderão ser levantados nos sites de cada instituição de ensino superior e, mesmo assim, a regra é a omissão de muitos desses números. Entretanto, acredito que os dados aqui expostos nos oferecem um painel amplo e variado, a partir do qual poderemos proceder a investigações mais detalhadas e minuciosas. Os números brutos deste estudo estarão disponíveis no site do PPG-Artes da UFPA.
Pelo visto, avançamos consideravelmente nos últimos 20 anos, seja na expansão da oferta, na diversidade de cursos ou na interiorização do ensino superior em artes, embora as discrepâncias ainda sejam acentuadas. A expansão das instituições federais de ensino superior rumo ao interior, os institutos de educação, ciência e tecnologia, o Plano Nacional de Professores e a educação à distância, nos fazem crer num cenário mais esperançoso para a área de artes em médio prazo. Como tendência geral, verifica-se a paulatina extinção dos cursos de Educação Artística (como outrora aconteceu com os cursos de Belas Artes) e o desmembramento dos cursos de Artes Cênicas em cursos específicos de Teatro e Dança. Apesar da sobrevivência dos cursos de Artes de caráter generalista, é visível a proeminência da especialização em diversos níveis e, nesse sentido, deve-se assinalar o surgimento de bacharelados específicos em História da Arte (3 credenciados, por enquanto).
Na contramão dessas tendências, a maioria das secretarias estaduais e municipais de educação recusa-se a admitir o ensino das artes por linguagens e ainda preferem, claramente, o professor polivalente – outra prova inequívoca da irrelevância das artes para o sistema educacional brasileiro. Esse descumprimento da LDB por parte de organismos governamentais – que, a rigor, deveriam zelar por ela – deve ser combatido em três frentes: 1) a criação e a implantação de cursos de formação específica para professores de artes nas séries iniciais; 2) a exigência de oferta do ensino de artes em todas as linguagens; 3) a defesa do ensino básico em período integral.
Para além da frieza dos números, torna-se necessário tecer algumas digressões (sempre provisórias), ancoradas não só no panorama exposto nos parágrafos anteriores, mas também nas nossas experiências e percepções.
5.1. A sobrevivência de visões românticas na arte e fora dela:
Em muitos níveis, podemos perceber o romantismo e o subjetivismo exagerados de muitos pesquisadores e profissionais da área, para os quais a Arte, seja qual for a sua manifestação, é a mais alta expressão do espírito humano e, assim, esquecem da advertência de Marcel Duchamp: “Existe arte boa e arte ruim. Assim como existe sentimento bom e sentimento ruim”. Nesse sentido, fazem exatamente como os cientistas que não admitem o caráter dialógico e multifacetado do conhecimento: vivem retirados e ensimesmados em seus castelos (suas especialidades) e recusam o debate aberto, o confronto, o diálogo ombro a ombro. Assim, seminários e congressos no Brasil não são fori de discussão e polêmica enriquecedora, mas tão somente painéis expositivos, onde os pesquisadores silenciam elegantemente quando confrontados com opiniões diversas das suas. Além do mais, no Brasil se confunde debate de ideias com embate pessoal.
Maravilhados com os primeiros rabiscos, ou os primeiros trinados, ou os primeiros gestos graciosos de uma criança, é comum vermos educadores, inclusive profissionais da área, asseverar a qualidade da produção artística de tal rebento. Mas ninguém admite, em sã consciência, que o talento revelado nas primeiras descobertas dos mundos físico, biológico, químico ou da linguagem já dá à criança um passaporte para expressar-se como cientista ou poeta. Afilhados dessa síndrome da genialidade estética (tão romântica!) ficamos embevecidos com nossas crianças brincando nos palcos e nas galerias, mas nem de longe sonhamos com crianças num laboratório. Ou seja, nós mesmos sublinhamos a ideia de que é possível “ser artista” desde a mais tenra idade, enquanto “ser cientista” é coisa de profissional, que pressupõe anos de estudos e dedicação. Torna-se desnecessário dizer o quanto esse estado de coisas contribui decisivamente para o desprestígio da Arte enquanto área de conhecimento e objeto de pesquisa.
Um outro lado não menos importante dessa questão é a persistência do discurso de que a arte, diferentemente dos produtos da língua, é universal, perceptível e inteligível por todos e independente de fronteiras culturais ou geográficas. Ora, qualquer produto do engenho e da criatividade humana (incluindo a arte) é universalizável, mas nunca universal a priori. A única coisa que se quer justificar nesse tipo de discurso é a imposição de valores. A arte, mais do que um tipo de técnica ou de objeto, é um valor variável nos tempos e nos espaços.
5.2. A configuração do campo metodológico e epistemológico da pesquisa na área de artes:
Entre os pesquisadores da área de Artes no Brasil, sorrateiramente impõem-se uma distinção entre pesquisa em arte e pesquisa sobre arte. Isso é uma tolice monumental, destinada a estabelecer feudos e hierarquias num campo de conhecimento – o da arte – que é, por natureza do fenômeno artístico, um campo multifacetado e caleidoscópico. Toda e qualquer pesquisa que tem a arte como objeto, seja como processo de criação, como processo de mediação ou como processo de recepção, deve ser considerada pesquisa no campo da arte, pouco importando se ela é feita por artistas, por filósofos, por historiadores, por sociólogos, por educadores ou por antropólogos.
A pesquisa na área de artes no Brasil padece atualmente de uma bipolaridade: de um lado, a emulação pura e simples de pressupostos metodológicos das ciências – reflexo inequívoco do cientismo técnico e racionalizador preponderante na cultura acadêmica atual em todo o mundo; de outro, a tentativa de estabelecer pressupostos metodológicos específicos de e para a área de artes, onde se verifica essa distinção entre pesquisa em arte e pesquisa sobre arte. Geralmente, essa bipolaridade tem sido o reflexo mais visível de um verdadeiro “transtorno epistemológico” (René Barbier) no universo da pesquisa estética/artística no Brasil.
5.3. A formação especializada do profissional de artes – de resto, de muitos profissionais no mundo acadêmico contemporâneo:
A especialização extremada torna opaca a visão interativa, a contribuição de outras áreas do conhecimento, as concepções de mundo, de homem e de natureza menos compartimentadas, mais interdependentes e colaborativas. Além do mais, desconfio que a interação tão prestigiada no mundo acadêmico através da defesa da interdisciplinaridade, da multiculturalidade, do rizoma, do hibridismo, dos links e das redes ainda não se encarnou em nossas práticas pedagógicas e metodológicas. E a explicação pode ser mais prosaica do que imaginamos: a indução à especialização cirúrgica arrefece o nosso interesse por outros saberes – como diria Darcy Ribeiro, “sabemos cada vez mais sobre cada vez menos”.
A interdisciplinaridade exige um olhar acurado aos fluxos e refluxos entre saberes. A comparação com a orquestra é pertinente neste caso: mesmo sendo especialista em um instrumento, o ato de tocar em grupo exige do músico a atenção ao que é praticado pelos outros instrumentistas e à orientação do maestro. O ensino superior brasileiro, seguindo uma tendência oriunda do sistema universitário norte-americano e imposto, basicamente, pelas práticas metodológicas das tecnociências, é cada vez mais singular e cada vez menos plural. A importância do trabalho de especialistas é inegável, mas a ausência de generalistas/articuladores torna natimorta a tão propalada interdisciplinaridade. É como se estivéssemos assistindo a uma orquestra sem maestro, onde a cada um interessa exclusivamente o som e a qualidade de seu instrumento.
Na área de artes, essa reflexão é extremamente importante na medida em que o estado da arte na contemporaneidade exige olhares que atravessem vários saberes e especialidades e o audiovisual é prova contundente disso. Ouso dizer que aos profissionais da arte é exigida, na atualidade, tanto a especialização do instrumentista quanto a visão geral do maestro.
Essa especialização extremada do conhecimento e da pesquisa em artes nada mais é do que a emulação das práticas metodológicas das chamadas “ciências duras” e, assim, as artes e as humanidades estão cada vez mais deslocadas daquela que talvez seja a sua mais nobre função: a capacidade de reflexão criativa e original. Milton Santos, na aula magna que ministrou na USP em 1992, já percebia esse estado de coisas ao afirmar que “um grave obstáculo a que se instale um processo de reflexão conseqüente é o contraste crescente, na Universidade, entre os seus grandes momentos e esse cotidiano tornado miserável pela ameaça já em marcha de uma gestão técnica e racionalizadora, que leva ao assassinado da criatividade e da originalidade” (1992, p. 40).
A Arte, enquanto fazer e pensar ou enquanto intelecção atrelada à sensualidade é um território multifacetado, região de múltiplas fronteiras e trânsitos. Seu corpus teórico e epistemológico não pode prescindir das contribuições da Filosofia, da História, da Psicologia, da Arqueologia, da Antropologia, da Sociologia, da Educação, da Comunicação e, mais recentemente, das Ciências Cognitivas. Por esse motivo, a formação do professor/profissional/pesquisador das artes tem que ser multifacetada, sem prejuízo do aprofundamento em conhecimentos especializados. Como avaliador de cursos de graduação em Artes Visuais, tenho constatado Brasil afora que esse caráter transterritorial do conhecimento em arte quase nunca é levado em consideração e isso em plena contemporaneidade, onde as fronteiras entre as linguagens artísticas estão cada vez mais esgarçadas.
Se isso pode ser considerado como premissa básica para as artes em geral, é fundamental para o cinema e o audiovisual. Área híbrida por excelência, o audiovisual pressupõe um conhecimento que dialoga incessantemente com a cultura visual, com a cultura verbal e com a cultura sonora. Se vocês, futuros profissionais do cinema e do audiovisual, tem a pretensão de fazer a diferença, não podem prescindir desse conhecimento em rede, interdisciplinar e multifacetado, além “daquela pegada” original e criativa.
5.4. A síndrome da invisibilidade ou “publicar ou morrer”:
Também para o mundo acadêmico brasileiro está valendo a máxima norte-americana de “publicar ou morrer”. Cada vez mais somos obrigados a criar e a publicar sob os critérios do “qualis-bibliográfico” e do “qualis-artístico” – e sabe-se lá de quantos mais “qualis” necessitaremos para sermos avaliados. A publicação num ritmo fordista – de concentração em partes, sem a visão e o domínio do todo – parece ser o mandamento número um do mundo acadêmico brasileiro e isso fez com que o Brasil chegasse (em 2009) ao 13º lugar no ranking da produção científica mundial.
No meio acadêmico brasileiro já se tornou comum o deboche em torno do “jogo dos pontinhos da Capes”, onde o que vale é a quantidade e não a qualidade. Envolvidos por esse jogo, publicamos num ritmo fabril na esperança de atingirmos a pontuação mínima necessária para termos acesso às parcas bolsas e incentivos disponíveis para a área de artes. O sistema de avaliação da Capes e a Plataforma Lattes do CNPq são prestigiados internacionalmente, mas é inegável a necessidade de se colocar a qualidade e a excelência no centro das atenções.
Já não há mais o tempo necessário para elaborar, mastigar e deglutir novas ideias, novas concepções, construir novos olhares ou para abordar velhas concepções sob novas perspectivas – em suma, não há mais tempo para a emoção e para a razão criativa. E o resultado disso, além de um balbuciar repetitivo, é a quantidade monumental de besteiras e opiniões pueris, rasteiras, vazias e redundantes que se publicam no país e no exterior, muitas em “co-autorias” que nada mais são do que a simples assinatura do orientador no trabalho do orientando. Num cenário acadêmico cada vez mais mundializado, geralmente escrevemos e publicamos em português e, excetuando-se os cariocas e os paulistas, e talvez os mineiros e os gaúchos, estamos longe das grandes editoras e dos grandes veículos de difusão nacional. Pesquisadores publicam para um público restrito – basicamente seus colegas – e é raro que seus estudos alcancem um universo mais amplo de leitores, comentadores e criticos.
Outro aspecto importante na divulgação do conhecimento em artes é o paulatino desaparecimento da crítica de arte da imprensa diária, substituída por “cadernos culturais” escritos por “jornalistas especializados” – essa alcatéia que solapou a atividade dos críticos, dos verdadeiros especialistas que sabiam sobre o que escreviam. Não por acaso, são os “jornalistas especializados” que mais acusam os especialistas acadêmicos de usarem uma “linguagem impenetrável, cheia de jargões técnicos, ininteligível para o grande público” – acusação não de toda infundada. Desse tipo de discurso deriva a concepção de que esses jornalistas se consideram os únicos “procuradores” da inteligência do grande público: conhecem exatamente o que o público pode ou não compreender e, se assim o fazem, é para garantirem uma reserva de mercado para a própria classe. Felizmente, a área de cinema ainda ocupa uma trincheira de resistência na imprensa diária paraense, graças à Associação de Críticos de Cinema do Pará, a mais antiga do Brasil.
Nesse cenário, há que se expor a luta fratricida entre pesquisadores pelas verbas para o desenvolvimento da pesquisa – e todas as vilanias possíveis e imagináveis que essa luta pressupõe –, com ganhos incomensuráveis para os profissionais das áreas (regionais e acadêmicas) hegemônicas. As humanidades e, dentro delas, as artes contentam-se com migalhas do ralo banquete. Algumas das conseqüências desse estado de coisas no mundinho acadêmico são a baixa auto-estima e a invisibilidade de pesquisadores das artes diante de pesquisadores de outras áreas de conhecimento (consideradas “mais sérias”).
Para concluir as digressões nesse item, deve-se reiterar mais uma vez que o ensino e a pesquisa são atividades que não gozam de nenhum prestígio no ranking profissional brasileiro.
5.5. O etnocentrismo vigente no conhecimento em artes:
Nos discursos canônicos da História da Arte e da Estética, a arte nasceu e se desenvolveu na Europa e o restante da humanidade não possui senso estético, ou, pelo menos, não possui senso estético “refinado” – nem mesmo Jacques Le Goff, um dos monumentos da historiografia contemporânea, escapa dessa maldição; Eric Havelock é outro exemplo. Defendendo esse tipo de visão, há os que afirmam que a Arte, a História da Arte e a Estética são disciplinas e teorias que surgiram e se desenvolveram no continente europeu e que, portanto, referem-se a práticas e pensamentos pertinentes à cultura do Velho Mundo ou, no máximo, às culturas que eles ajudaram a formatar no Novo Mundo. Esse ponto de vista, obviamente, é só uma maneira de justificar as inúmeras formas de sobrevivência dos colonialismos intelectuais, já que a cultura européia – como toda cultura – sempre foi também um entreposto de ideias, conceitos, práticas e procedimentos de origens diversas. Reflexo disso e corroborando a tese de que emulamos acriticamente a visão dos centros hegemônicos, constata-se o fato de que não há, no Brasil, nenhum compêndio de história geral da arte (nem mesmo brasileira), que considere seriamente a arte produzida por aqui antes da chegada dos europeus.
O outro lado dessa questão é, justamente, o status que a História da Arte goza em relação às outras disciplinas de caráter teórico/reflexiva. Pelo que tenho constatado em muitos currículos, história, filosofia e sociologia da arte têm sido reunidas numa só disciplina que normalmente é chamada de “História e Teoria da Arte”. O que se esconde por trás disso é não só o “enxugamento” do currículo (supostamente para privilegiar interações e sínteses), mas a inépcia de muitos professores para provocarem, por exemplo, discussões mais profundas e reveladoras sobre Filosofia ou Sociologia da Arte – muitos não estão preparados para isso, já que só ouvem falar de filosofia e sociologia de maneira decente nos cursos de pós-graduação. Apesar da importância da história da arte, não posso concordar que sua proeminência seja erigida sobre a ocultação da filosofia, da sociologia, da antropologia e da psicologia da arte no desenho curricular da maioria dos cursos de arte no Brasil.
A cultura – qualquer cultura – é sempre um processo dinâmico por causa de seu caráter mimético, de assimilação, de confluência e de divergências. Considerar uma cultura – qualquer cultura – como um corpo virginal e intocável é uma excrescência que não se sustenta sob nenhuma hipótese. A cultura (como a natureza, seu duplo) é o terreno por excelência das infecções, das contaminações, dos hibridismos, da diversidade e da diferença. E a arte é um campo de saber privilegiado nesse sentido, na medida em que sua história revela, amiúde, um apreço pela recriação das formas de parceria, de interação, de experimentação e diálogo com o mundo, com a natureza e com a sociedade.
Felizmente, parece que estamos começando a vivenciar uma configuração mais multipolar do mundo. As periferias políticas, econômicas, científicas e artísticas – culturais, enfim – não querem mais o papel exclusivo de exportadoras de matéria-prima, seja econômica, seja intelectual. Querem sentar à mesa onde se discute e se tomam as decisões importantes. São muitos os exemplos nesse sentido, mas não tenhamos, pelo menos por enquanto, grandes ilusões: o “diálogo” entre centro e periferia ou entre culturas ainda está profundamente assentado na concepção de mundo bipolar e no modo opositivo ainda hoje entranhado na intelectualidade ocidental.
Lidar com a arte exige, necessariamente, olhares endógenos e exógenos, ou seja, transversais, paradoxais e continuamente em trânsito. O diálogo entre visões autóctones e alienígenas deve ser privilegiado num patamar de igualdade e não de exclusões; e toda unilateralidade deve ser combatida. Assim, os primórdios da arte não estão exclusivamente nas paredes de Lascaux ou Altamira, mas também nas pinturas parietais do Pará, do Piauí, de Goiás e das Minas Gerais; os mais belos exemplares de artefatos cerâmicos não foram engendrados somente pelas civilizações grega, chinesa, japonesa ou hindu, mas também pelas culturas tapajônica e marajoara. Digo isso também porque a ancestralidade da arte brasileira ainda é quase um feudo exclusivo de antropólogos, historiadores e arqueólogos.
Por esses motivos, o estudo da cultura visual, da cultura cênica e da cultura musical não pode ser visto, simplesmente, como um manancial para a criação artística. Para além dessa importância como referência, as culturas visual, cênica e musical atravessam e são atravessadas pelo campo da arte, num diálogo intenso e permanente absolutamente imprescindível na contemporaneidade.
Felizmente e infelizmente, sempre seremos brasileiros, resultado de um amálgama biológico e cultural – nem sempre pacífico e sereno – de características tupi-euro-africanas. Estampou-se no imaginário coletivo brasileiro o orgulho por nossa ascendência européia (intelectual inclusive); valoriza-se, ainda que tênue e muito recentemente, a herança africana; mas soterramos em muitas camadas de esquecimento, indiferença e preconceito a nossa ancestral matriz indígena. Alberto Mussa nos adverte: “Não sei o que ainda é necessário fazer para que as pessoas compreendam isso – que não estamos aqui faz apenas cinco séculos, mas há uns 15 mil anos. Há 15 mil anos somos brasileiros; e não sabemos nada do Brasil” (2009, p. 22).
Essa afirmação de Mussa tem muitas implicações. Dentre elas, o fato de que assumir uma perspectiva histórica e cultural de apenas 500 anos seria reiterar a nossa suposta condição de noviços. E noviços não ensinam, só aprendem.
O fascínio pela metrópole (velha ou nova, urbana ou intelectual) ainda assola grande parte das consciências tupiniquins. Convenhamos que alguma antropofagia pusilânime se dê em vários níveis, mas isso não é a regra. Tinha razão Eduardo Portela quando afirmava, ainda em 1978, que o Brasil “possui uma elite [...], que desviada da sua função construtora, prefere imitar a criar, entregando-se sem resistência à força erosiva do empório” (1978, p. 12).
6. (des)caminhos e (in)conclusões:
As expressões peculiares e a diversidade linguística, os ritmos, os gestos, as cores, os sabores e saberes, os odores, a imensidão das águas e das florestas, a variedade biológica, a riqueza do solo e a pobreza da gente... Tudo isso deve dizer muito e, ao mesmo tempo, nada disso determina a nossa identidade de maneira unívoca. A complexidade da cultura brasileira é tamanha que só os incapazes de perceber a cultura e a sociedade como sistemas em rede acreditam que as perspectivas alienígenas e extemporâneas dizem tudo, explicam tudo, concluem tudo. É necessário olharmos para o nosso contexto, verificarmos sua excelência e propor perspectivas diferenciadas. Não daquela maneira míope e folclórica que quer nos fazer crer que basta ser “autóctone” e “nativo” para ganhar o selo de intocável e transcendente.
Nosso senso critico tem que ser dirigido não só para o centro, mas também para a periferia. Talvez assim consigamos fazer evaporar definitivamente nosso “complexo de vira-latas” – até porque já se sabe que vira-latas são mais resistentes que os caninos considerados “puros”. A dúvida oswaldiana – “Tupy or not Tupy” – ainda nos interpela e incomoda em plena contemporaneidade e talvez o projeto antropofágico de nossa modernidade ainda não esteja de todo concluído.
Caminhar pode ser um ato errático e vacilante, mas em qualquer caminhar é imprescindível perceber a dimensão do trajeto percorrido. Quem não sabe de onde vem não tem ideia de onde se encontra e, muito menos, aonde pode ou quer chegar.
Finalmente, não podemos nos esquecer jamais da advertência de Simon Schama: “O poder da arte é o poder da surpresa perturbadora” (2010. p.11). E a arte é um modo de interpelar, perscrutar e interpretar o ser humano, a natureza, o mundo e o que está aquém ou além disso tudo.
Como futuros profissionais do cinema e do audiovisual, seja aproximando-se do documental ou delirando na mais louca das estéticas surrealistas, jamais se esqueçam que um mundo sem a arte é simplesmente inconcebível. O ser humano, sem o poder da “surpresa perturbadora” da arte, pode ser tudo, menos humano. E é justamente por esse motivo que temos a honra de inaugurar os trabalhos da primeira turma do bacharelado de Cinema e Audiovisual da Faculdade de Artes Visuais e Museologia do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará.
Referências Bibliográficas:
ARGAN Giulio Carlo e FAGIOLO, Maurizio. Guia de história da arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1994.
BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Líber, 2007.
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1978.
LE GOFF, Jacques. Uma breve história da Europa. Petrópolis: Vozes, 2008.
MUSSA, Alberto. Meu destino é ser onça. Rio de Janeiro: Record, 2009.
PORTELLA, Eduardo. Vanguarda e cultura de massa. – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
RIBEIRO, Darcy. Testemunho. São Paulo: Siciliano, 1990.
SANTOS, Milton e SILVA, Maria Auxiliador. Natureza. Salvador: IMA, 2009.
SCHAMA, Simon. O poder da arte. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
*José Afonso Medeiros Souza é graduado em Educ. Artística/Artes Plásticas pela UFPA, especialista em História da Arte e mestre em Arte-Educação pela Universidade de Shizuoka (Japão) e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Foi bolsista do Ministério da Educação, Ciência e Cultura do Japão, da Capes e da Fundação Japão. Atualmente, é Prof. Associado e Diretor-Geral do Instituto de Ciências da Arte da UFPA.